O novo consenso padece de consenso
Publicado em 08/01/2024
Depoimento de Luiz Guilherme Schymura a Luiz Cesar Faro
Inteligência Insight — Durante pouco mais de 30 anos, um mantra desafinou o mundo, convencendo-o, paradoxalmente, de que o estava afinando para todo o sempre. Isto até que o tempo, o dono do homem, convenceu-o de que tudo muda, é uma questão de esperar. Olhando-o com o viés do presente, o conjunto de medidas chamadas de Consenso de Washington paragonou o “economics”: a macroeconomia passou a repetir o mesmo diagnóstico, as mesmas emendas, idêntico tratamento e cura simétrica. Em síntese, teoricamente, a nave das finanças mundiais foi colocada no prumo durante três décadas, sem que se suspeitasse que sua “perfeição” sofria de males secretos. O Consenso consertou as economias, pelo menos a parte delas que interessava ao mundo. Não era uma panaceia.
A lógica das proposições do Consenso carregava uma racionalidade irresistível.
Do ponto de vista estético e intelectual, esse pensamento exato e com presunção de ser tábua de salvação, estava escrito em um decálogo de recomendações postas como definitivas e irrefutáveis. Uma cartilha que sintetizava a geopolítica da época sob a forma pretensa da mais pura teoria econômica, ignorando que havia uma entropia endógena no acúmulo das decisões “perfeitas e consensuais”, esquecendo que perfeição e consenso não existem. Do ponto de vista moral, nem o Consenso nem o Dissenso que ora põe o primeiro em xeque não são bons ou maus. Estão mais para ciclos, apesar do grupo dominante ter levado indiscutível vantagem quantitativa com a adoção generalizada do mantra pintado de ciência. Na prática, a solução universal serviu para que os Impérios norte americano e asiático conseguissem, de forma absolutamente assimétrica, realizar uma espetacular acumulação de capital sem lastro. Quem foi convocado para escriba do dever de casa dos países do mundo foi o economista norte-americano John Williamson. É certo que Williamson não tinha a dimensão presente ou futura do seu feito. Quem teria? Mas ele esculpiu seus mandamentos em pedras retiradas do que se pensava como ciência. Aliás, ciência é sempre aquilo que se pensa que é ciência. Simplificando, os ditames do decálogo são: disciplina fiscal, redirecionamento da despesa pública para somente funções sociais, reforma tributária, liberalização da taxa de juros, taxa de câmbio competitivo, liberalização do comércio, liberalização do investimento estrangeiro direto interno, privatizações, desregulamentação e proteção do direito de propriedade. Nada que não parecesse uma exortação ao bom senso. Mas o excesso de convicção sobre o sucesso da fórmula, sobrepôs-se a produção descontrolada, a depredação do meio ambiente e imposição do modelo de acumulação financeira ao um nível exponencial, transformando o alvitre do Consenso em um estoque de apuros e impasses. O conjunto de mandamentos deixou de ser matéria irrefutável. Foi ferido na essência. Como diz a metodologia de Karl Popper, se não pode ser refutado, não é ciência. Os 34 anos de vigência do Consenso foram sendo aos poucos erodidos, com uma ferrugem aqui outra ali, até que baques mais fortes ocorressem nesse século. Estamos falando da crise dos subprimes e da pandemia, fundamentais para que o decálogo de Washington a situação de dogma ideológico fosse sendo compreendido como um dogma ideológico. Hoje, o Consenso é uma tese cheia cheio de furos, com permissão para aplicação tópica de alguns quesitos como antibióticos recomendados pela boa e responsável medicina econômica. A hegemonia do pensamento único, digamos assim, rachou. Surge, então, o que parte da academia passou a chamar de “Novo Consenso de Washington” que eu acho mais condizente rotular de “Dissenso de Washington”. O nome já diz tudo. Mas sua definição é mais complexa do que parece. Talvez uma boa denominação tentativa fosse a “economia da dúvida, da culpa e da reparação.”.
A crise está exorbitando antes de ser melhor entendida
Os verticals do Dissenso ganharam tração no berço esplêndido do Consenso de Washington. São superlativos planetários, inexoráveis, múltiplos e entrelaçados: a ameaça de tragedia climática, a concentração de renda desmedida, o desemprego estrutural, a insegurança alimentar, a destruição do meio ambiente, a ameaça permanente à democracia, o aumento da fome e da miséria, a revisão da função e do tamanho do Estados, a redenção do investimento público, o perdão aos subsídios desde que a alocação seja justa e produtiva e uma desregulamentação ampla para que se possa re-regular as novas demandas. Se, de um lado, ao contrário do minimalismo do Consenso, temos verticals numericamente por definir e entrelaçadas na grande maioria das vezes, de outro temos algumas variáveis independentes. A que mais se sobressai é a tecnologia, um vetor transversal a todas as variáveis. Noves fora o fenômeno da tecnologia – que não se sabe nunca no que vai dar –, o homem tem culpa ou responsabilidade em todas as demais verticals e é preciso que repare os malefícios antes que uma solução terminal impeça a cura. O fato é que, enquanto o Consenso de Washington prometia o Nirvana, já se antevia, tijolo sob tijolo, as consequências do inchaço das suas medidas. Como nada sobrevive fora da política, o decálogo de Washington elevou o neoliberalismo – que já vinha cavalgando a economia – ao estágio de ultraliberalismo; tonificou seu trajeto em uma mão única; fez dele sua imagem e semelhança e fortaleceu uma extrema direita em fase de hibernação, mas longe de ter desaparecido do cenário. Foi essa direita hipertrofiada que deu sustentação política ao Consenso, que, por sua vez, deu sustentação acadêmica e amalgamou o mercado a seu favor. Em última instância, estamos falando de acumulação de capital, democracia e política. E principalmente História. Categorias que a amoralidade e a pretensão do Consenso de ser absoluto desconsiderou ou colocou em um patamar de inferioridade.
Nem tudo que parece verdade assim o é
Quando estive na Bienal de Veneza, algo me chamou muito a atenção: a maior parte das obras era de coletivos indonésios, africanos, senegaleses. Havia também um coletivo de transexuais maoris. Eles não estavam demandando dinheiro. Estavam demandando cidadania, aceitação. Todos estão em busca de sua identidade. Isso é a democracia. Um outro vertical universal, em busca de cura das suas mazelas pelo mundo afora, mesmo sendo a melhor solução à vista. Ele se resume na procura por ser incluído, atendido dentro do mesmo modelo dos demais. Na democracia tem de caber todo mundo. Isso é uma urgência que brota, e a democracia liberal não consegue dar a resposta que as pessoas esperam na velocidade das suas expectativas e urgências. Surge, então, um embate dentro da sociedade, que inviabiliza esse processo lento e gradual de inclusão social. São conflitos que o Consenso de Washington sequer concebia, ou se concebia, desdenhava. Por isso, o Consenso sai do proscênio, torna-se partícipe normal do debate e deixa no centro do palco a dúvida, sua antípoda e grande inimiga. Assim, um hipotético primeiro capítulo do Dissenso, se é que é possível capitular algo em formação, bem poderia ser uma defesa de tese: há mais de subjetividade na teoria econômica do que imagina a vã filosofia.
A ciência se travestiu do que deveria ser
Da mesma forma que, conforme a dialética platônica, não se sabe se foi o neoliberalismo que acordou o Consenso de Washington, ou se foi o inverso, o mesmo fenômeno se verificou com diversos verticais. Com certeza, sabe-se apenas que o Consenso, em sua forma tácita, antecede o breve texto de John Williamson. Da mesma forma, as contradições engordavam no ventre de Washington sem que a atrofia das suas variáveis fosse percebida ou valorizada. Os direitos e as diversidades, por exemplo, são verticals movidas a contraposições. São combustível na veia do Dissenso. Há um grupo que quer fazer o mínimo de diversidade. São pessoas que entendem que a inclusão por si própria fere a meritocracia. Talvez fira. Do mesmo jeito em que a meritocracia fere a perspectiva de equidade. O Consenso de Washington apenas tangenciou o assunto. O Dissenso assume que há culpa e introduz no debate a perspectiva reparatória, que aceita a ideia de compensação histórica. Como sempre, culpa e reparação. As diversidades aparecem como um vertical transversal, mas de segunda mão. Porém, não se iludam, ele é tão relevante quanto os blockbusters das áreas econômica e ambiental. O que fazemos aqui no Ibre, como em toda a FGV é estimular a todos para que compreendam e aceitem as diferenças de religião, cor, raça, orientação sexual etc. Esse é o primeiro passo para permitir que todos sejam acolhidos. Estamos na infância das diversidades. No Brasil, fora dos grupos de interesse, há variados modelos de inclusão, notadamente voltados para a questão da renda. Na maior parte das vezes estamos inseridos no modelo clássico: o sujeito ganha dinheiro, quer seja de forma regular, quer seja irregular, e depois pega um tantinho disso e distribui para a população excluída. Um outro modelo é aquele chamado de “Política Magazine Luiza”. Foi uma grande sacada da empresária Luiza Helena Trajano, no seguinte sentido: quando a empresa diz para os pretos que só vai aceitar candidatos a emprego com sua cor, nas entrelinhas é como se estivesse falando “o preconceito aqui é contra os brancos”. Com outras palavras, cria uma reserva de mercado racial. Ressalte-se que não está se fazendo aqui qualquer crítica ao Magazine Luiza ou a sua sócia controladora. O mercado está cheio de múltiplas estratégias. Há quem prometa uma ascensão social no trabalho maior às mulheres negras. Ou que determinados cursos de especialização estão circunscritos à triagem racial ou de gênero. O preto vai querer trabalhar lá, mesmo que esteja ganhando menos, porque a promessa de crescimento pessoal é maior. Trata-se de um emprego com perspectiva de ascensão social.
Os cavalos vencedores da geopolítica
Por ora, entenda-se que o capitalismo é o elo mais forte entre os contrários. O Dissenso não é a sua condenação, e é improvável que ele não prossiga majoritário. Há vantagens na simbiose do fator competição, e seu inevitável componente de injustiça, com a eficácia, que traz também benignos compósitos. O dilema é se os compósitos são autorregenerativos quando se percebem em mutação, ou se percebem em mutação quando já mudaram. Na segunda hipótese, o que se aguarda são os consertos no casco do capitalismo. Eles estão há muito tempo no pipeline do regime, aguardando reparos. Apesar de diferentes, democracia e capitalismo vestem figurinos muito parecidos. Das tragédias e magníficas soluções que ainda hão de surgir como derivativos e transformações da ordem econômica pretérita, alguns fundamentais se quebraram antecipadamente. Já existem pensamentos consistentes acerca da fissura entre o decálogo e sua condição de Deus ex machina. É óbvio que o Dissenso faz sentido em contraposição a um modelo com base no exato ou no exactus, acheve, actus, conforme se diria no latim. Exemplo de observação: o lugar de importância maior do fiscal no nosso tempo não deve permanecer o mesmo. Sabe-se lá o que nos aguarda no porvir. Mas o desafio tem um custo incalculável, a começar pela transição da matriz energética com a readequação da indústria em sintonia com a redução da riqueza extraída das florestas. É inimaginável a dimensão da despesa necessária dar conta dessa alteração. O “ótimo” do gasto público, conforme a deificação instituída pelo Consenso, seja lá quantos trilhões isso der, é insuficiente. Não há capital privado no montante necessário para, digamos assim, reconstruir o planeta. O drama torna-se maior quando se constata que as previsões tétricas são mais vagarosas do que nos impõe a concretização da realidade. O mundo piora mais rapidamente do que estimamos. Basta vermos o clima e seu disparate. Viremos a página. Segue um exemplo de convicção: haverá países que farão da queda um passo de dança, mesmo que lá na frente paguem um preço igual aos demais. Os efeitos do Dissenso não são de idêntica proporção ou impacto similar em todas as nações – no andar do tempo é que as consequências mais nefastas irão se afunilar incluindo todos os seres vivos. Aliás, desde as primeiras ideias e estudos rudimentares sobre a questão da sustentabilidade sabia-se que uns levariam vantagem sobre outros. Enquanto não houver o armagedon, os países mais bem afortunados ampliarão o gap em relação ao grupo dos pobretões ou desprovidos de alguma vantagem comparativa
Nem tudo está tão errado ou tão correto
O Brasil é um dos países que mais pode se beneficiar com essa nova ordem, pelo menos nesse primeiro ciclo de precificação e realocação dos ativos. Não apenas pelas suas vantagens comparativas naturais, tais como provedor de segurança alimentar e balcão barato para a transição energética, somente para ficarmos apenas em searas mais notórias ou velhos clichês. Vejo outro grande trunfo: o Brasil hoje tem uma maturidade em relação ao capitalismo e um avanço democrático que poucos lugares do mundo têm. Alguns movimentos são impressionantes. A aprovação da reforma da Previdência mexeu muito com a minha cabeça. É um rescaldo do Consenso, que já foi o que de melhor tivemos e hoje deixa de ser Consenso, mas permanece como bula em casos específicos. Não achei que conseguiríamos avançar nessa agenda. Ao redor do mundo, a dificuldade de uma reforma das regras de aposentadoria é algo colossal. Entenda-se democracia, por definição, como um regime de criação e garantia de direitos. Uma reforma da Previdência nada mais é do que um expediente para tirar o direito das pessoas, seja lá a motivação e juízo de valor da iniciativa. Na alvorada do Consenso, na gestão Jair Bolsonaro, era o que tinha que ser feito. E hoje provavelmente tivesse que ser repetido, não obstante, dúvidas sobre o local das paredes e arrumação das telhas da reforma. Mas, no caso, melhor que a casa tenha sido edificada, mesmo com imperfeições. A democracia também precisa de correções. Já em outras áreas, o Consenso criou um norte sem Sul. Exemplo: os equívocos do teto dos gastos, que foi muito mal estruturado. Por incrível que pareça, conseguimos, em uma Constituição Cidadã, criar uma emenda que só trata da questão da limitação dos gastos. Esse verticals já foi para o saco. Pois bem, agora temos um arcabouço fiscal, no qual estamos tratando basicamente da receita e da despesa. Falta equilíbrio. Mas ainda que cheios de dúvidas, continuamos caminhando bem. Temos a reforma tributária. Mesmo com alguns desacertos, as reformas estruturais são evidências de grande maturidade da democracia. Precisarão de ajustes para se encaixar com menos arestas na economia. Mas quais ajustes? É disso que se fala, é disso que se trata, é disso que não se sabe.
Um mundo que se acerta quando “entorta”
Certa vez, eu li a história de um filósofo francês que, na década de 1980, foi dar aula na China a um empresário local. Uma jornalista perguntou-o: “O senhor vai lecionar na China e vai ficar lá seis anos. É um período muito curto para aprender sobre a China”. Do que, então, ele devolveu de bate-pronto: “Eu não tenho a menor intenção de aprender nada sobre a China. Eu estou indo lá para aprender sobre a França”. Às vezes precisamos sair, nos distanciar, para ter a visão do todo. Essa fase em que estamos questionando preceitos tidos como verdades absolutas é riquíssima. Sim, condenação generalizada a qualquer intervenção do Estado, subsídio, políticas de fomento, só para ficar nos principais anátemas do Consenso, são doutrinas que estão caindo por terra ou, ao menos, sendo contestadas. Estamos virando a chave de uma relativa tranquilidade intelectual para uma situação de absoluta inquietude intelectual. O que eu acho excelente. O que não quer dizer que essas práticas sejam ótimas ou universais. Alguma coisa virá no lugar, mexendo quer seja no quantitativo, quer seja no qualitativo, ou mesmo em ambos. A dúvida sobre se o que se põe no local de algo que já caiu é a grande transversal. Há momentos em que o óbvio se manifesta em todo o seu esplendor. Mas nem tudo o que chamamos de dissenso já não contém sua resposta formulada, não obstante a ditadura da dialética. O discurso que o presidente Lula fez recentemente em Paris é um marco. Ele descortinou a agenda interditada. O Brasil não é um país que tem de brigar, por exemplo, pela pauta da cura do câncer. Isso é problema das nações do Primeiro Mundo. No Brasil, o problema é quem está com gripe na fila do hospital. Essa é a nossa prioridade. É óbvio que precisamos ter atualização científica, estabelecer um contato direto com o exterior. Não podemos ficar em uma ilha. Agora, é fundamental termos uma agenda do Brasil.
O que é nosso e o que é dos outros
O meio ambiente não é uma agenda do Brasil, mas, sim, do resto do mundo. A agenda do Brasil é a pobreza. Mesmo mudando a compreensão do limite do fiscal, temos, sim, hoje, conforme o paradigma do presente e o pensamento do conserto das Nações, um problema fiscal. Não temos dinheiro para nada. A questão do meio ambiente é dinheiro. Outro dia eu recebi um executivo de renome internacional. Ele fez uma apresentação sobre o conceito do Cisne Verde (eventos climáticos perturbadores do ponto de vista financeiro). Eu virei para ele e disse: “Meu caro, eu acho formidável, mas deixa eu te perguntar o seguinte: há alguma restrição para o capitalista produzir coisas de economia verde? Porque eles desmatam, aumentam o gado no pasto etc. Se não produzem nada de economia verde, não deve ser um bom negócio.” De alguma maneira, ao longo das próximas décadas, a Zona Franca de Manaus poderia ter incentivos vinculados à economia verde. É viável? Sim, é. Mas é um processo lento e gradual. Quase um sonho, um devaneio. Eu não vejo a pauta do meio ambiente como a mais relevante para o Brasil, hoje. Eu vejo o Brasil inserido obrigatoriamente nessa pauta. Querem discutir meio ambiente? Perfeito. Vamos discutir meio ambiente, mas vamos discutir pobreza junto.
A era da narrativa e a fraude da própria dúvida
Nietzsche tem uma questão central: ele acredita que o ser humano não é nada demais e deveria aceitar a sua condição da era pré-Socrática. Para ele, o crescimento deveria se dar através da arte. E a arte é música, poesia, pintura; não é PIB, teoria econômica ou coisas do gênero. A gente deveria ser reduzido a esses estados de grandeza espiritual. Nunca um discurso científico e muito menos a religião chegariam a um resultado final. Na verdade, todos os discursos supracitados eram uma necessidade humana para suportar o mundo. Isto porque o ser humano se achava o máximo e que Deus explicava tudo. Essa interpretação provoca a sensação de que, no fundo, as pessoas estão sempre vendendo alguma narrativa, um discurso que convença o outro. Independentemente do valor do argumento. Houve um momento em que a humanidade era cientificista. Outro em que era totalmente anticientificista. Hoje o mundo é da narrativa. Essa história da preponderância do meio ambiente sobre tudo, que vem no bojo de um novo consenso ou um de um dissenso, é mais narrativa do que uma preocupação efetiva. O Brasil deve gastar energia com a pauta ambiental. Mas não na dimensão que a narrativa global tenta nos impor. Cito a pauta ambiental como um exemplo dos excessos que esse novo ordenamento global pode nos impor. O meio ambiente é um vertical, sim, sem dúvida. Mas quem disse que não há dúvida no grau de responsabilidade, exigência de empenho e tamanho da contribuição de cada uma das Nações.
A teoria de algumas desvantagens comparativas
O Novo Consenso de Washington, ou esse Consenso às avessas, tenta adequar e alinhar diferentes verticals e dar peso similar e dar peso diferente a problemas diferentes, que afetam a todos, mas também de forma diferente. Há mudanças radicais a caminho nos fundamentos que regiam os mandamentos anteriores. Algumas já estão dadas. A indústria é um bom exemplo. Ela exigirá sintonia com o meio ambiente, mas exigirá também a flexibilização das amarras fiscais, uma vez que ela passará – ou melhor, já está passando – por um boom de demanda de investimentos E, quando trazemos esse conceito para o Brasil, nos deparamos com uma situação preocupante. Há muito a fazer. Nossa indústria é extremamente penalizada. A indústria depende de capital de giro para investimento, de dinheiro à frente. Com os altos juros, a conta não fecha. Além disso, o setor paga relativamente muito mais imposto do que qualquer outro setor da economia. Essa reforma tributária já é uma política industrial das melhores. E o terceiro ponto, para o qual também muito pouca gente presta atenção, é o câmbio. Estamos em um país que tem o agronegócio como propulsor da economia. Ou seja: o câmbio vai ficar estruturalmente lá embaixo. Se não tivéssemos essa produção de grãos e, olhando para as commodities de uma forma geral, o dólar aqui seria R$ 7. É o equilíbrio natural: o Brasil seria um país muito mais industrial do que hoje. Não tenho a menor dúvida. Provavelmente o povo teria tido acesso a uma educação muito melhor, como é a Coreia do Sul. As coisas são difíceis. Mas, mas, por paradoxal que possa parecer, no nosso Dissenso, os problemas também engendram boas notícias no Brasil. Neste momento, temos o agronegócio, energia limpa e aquífero. São dádivas e ao mesmo tempo complicadores, vide o câmbio. Este país é impressionante.
O agro é pop e a indústria uma quimera
Precisamos ter políticas compensatórias para a indústria. Não existe país que só exporta. E muito menos que só exporta in natura. O mundo é troca. E há um outro ponto interessante: o grão não gera muito emprego, ao contrário do maior valor adicionado na cadeia produtiva. O agronegócio tem uma relação pequena com o país: produz, manda para o porto e acabou. A relação é com o câmbio. O agro, inclusive, paga pouco imposto. Agora, quem quiser investir em uma fábrica de óleo de soja terá de conviver com uma teia de impostos diferentes, legislação trabalhista etc. Então, a mensagem é: exporta tudo que puder e o emprego que se dane. Os países que importam nossos grãos gostam muito dessa situação. O emprego fica lá, o valor adicionado fica lá. Tudo que é valioso fica em casa. E vencer essa barreira é algo muito difícil. A China, por exemplo, não tem interesse que o Brasil exporte óleo de soja. E aqui não existem facilidades para isso. É tanta tributação, tanta relação obrigatória com o Estado brasileiro, que é melhor fazer in natura. Então, o Brasil se tornou um país exportador de produtos primários. Não chega a ser ruim, mas poderia ser melhor. Não dá mais para um país ficar totalmente à mercê de outro em produtos ou insumos fundamentais, como é o nosso caso, por exemplo, em relação ao fertilizante, notadamente da Rússia. Talvez o Brasil não consiga resolver esse problema por si só, mas poderia haver um movimento na América Latina, usando parceiros. Ou seja: criar blocos e fazer políticas multilaterais.
Nas entrelinhas da teoria
Eu gosto muito da teoria econômica. Mas observo que muitos economistas têm dificuldade de ler as mensagens que a teoria econômica está transmitindo. Recentemente, em um artigo, o professor Aloísio Araújo, talvez o nosso maior mestre em teoria econômica, levantou uma questão muito interessante sobre as metas de inflação. Ele faz um modelo teórico, muito bem estruturado, para mostrar que esse cálculo depende do tamanho da dívida. Não é possível traçar uma meta aleatória. Outro dia estava conversando com umas pessoas e perguntei: “Mas qual tem de ser a meta de inflação?” “A menor possível”, responderam. Ok, mas é 3%? 3,5%? Por que não 2,5%? Eu quero um modelo, uma explicação teórica. A única que eu conheço é do Aloísio Araújo. Não tem, obviamente um número, não vão chegar em número nenhum, mas tem uma linha de argumentação, de reflexão, muito interessante. A mesma coisa vale para a relação dívida/PIB – e não estou falando da Nova Teoria Monetária, que é esteticamente muito interessante, mas carece de conteúdo. A teoria econômica ajuda a organizar o raciocínio, mas não pode ser um balizador da definição do Consenso de Washington ou de uma definição maior para o mundo. Não existe isso porque depende de uma série de circunstâncias, entre elas do impacto da transversal tecnologia sobre todo o demais. Em 2020, no início da pandemia, acreditava-se que o resultado primário ia se equilibrar naquele ano. Se alguém dissesse, no início de 2020, que o governo daria um auxílio de R$ 600, seria tachado de louco. Estoura a pandemia e, de repente, os R$ 600 couberam no fiscal. Por quê? Porque a realidade se impôs. As circunstâncias obrigaram o país a se adaptar a uma nova compreensão do mundo.
Um ajuste sob medida
Não sabemos ao certo o que as expectativas significam, mas já percebemos que elas são muito importantes. O ministro Fernando Haddad tem sido muito competente nesse sentido. O que ele fez com a meta de inflação? Criou a meta de inflação contínua? Na prática, ele empurrou o problema para frente. E de forma inteligente. Quando chegar a hora de definir como se dará esse cálculo, tudo será negociado. A dúvida presente convergirá para uma dúvida futura e por aí vai. Imagine que lá na frente a inflação esteja em 2%. Ele vai brigar agora por algo que não sabe o que será depois? Por mais paradoxal que possa parecer, mesmo não decidindo agora, ele tirou a imprevisibilidade. Porque ele deu o horizonte: fim de 2024. Não é um voo no escuro. O Consenso de Washington diria: “Tem de resolver agora”. O velho consenso encaixotava; o Dissenso desencaixota. Contudo, é um desencaixotar que, no fundo, está encaixotando, mas com flexibilidade. Nós vimos no que deu o Consenso de Washington. Vimos a loucura que foi, por exemplo, na Argentina e na Grécia, que seguiram os cânones desse velho receituário, encaixotado. Muitos argumentam, por exemplo, que a melhoria da capacidade de alocação dos recursos poderia criar uma flexibilidade maior em relação ao fiscal. Tudo bem, concordamos. O problema é que o Brasil não consegue fazer investimento público com foco. É a minha crítica a quase tudo que foi feito de política industrial no Brasil. Não sabemos fazer política industrial. A Coreia do Sul, por exemplo, traçou metas para tudo. No Brasil, temos de trabalhar com a nossa realidade cultural. E, por enquanto, é essa. Não conseguimos estabelecer um programa e muito menos métricas de avaliação sobre as entregas. Vamos pegar um exemplo: o governo dá incentivo à instalação da indústria X. Dois anos após o investimento, está claro que o negócio não está dando os resultados esperados. O governo consegue descontinuar? Não. Nosso maior problema não é a falta de investimento público. É a falta de planejamento. É fazer acabar o que já se começou.
O capitalismo à procura de um revisionismo
O sociólogo francês Christian Laval diz que o ser humano não está preparado para suportar tanta competição. Em razoável parcela, todas essas doenças psiquiátricas do mundo atual decorrem dessa exigência. Um dia, conversando com uma amiga psicanalista sobre esse assunto, eu disse: “Seus pacientes devem te adorar. Você deve dar a eles uma paz pessoal, ao tratar essa preocupação excessiva com a competição”. No que ela respondeu de pronto: “Pelo contrário. A pessoa inicia o tratamento e começa a ter raiva de mim a partir do momento em que não consegue mais ser tão competitiva no mercado de trabalho”. Há ótimos profissionais que estão surtando na casa dos 40 anos. Qual é a solução? Diminuir a pressão por tanta produção? Ou aumentar o controle de natalidade com o objetivo de diminuir a população mundial, como alguns antropólogos pregam? Não tenho resposta. Tem uma frase atribuída ao Slavoj Žižek (filósofo esloveno), da qual eu gosto muito: “É mais fácil imaginar o fim do mundo, do que o fim do capitalismo”. Agora, talvez falte uma autocrítica dentro do capitalismo. É curioso: o marxismo pensa permanentemente em revisionismo. Mas, no capitalismo, essa palavra, de certa forma, é condenada. Sob um determinado ângulo, o capitalismo é cruel, injusto. No passado, as pessoas que não eram fortes morriam. Hoje, o sujeito não é forte, mas nasce em uma família com posses e é preservado.
Como recosturar o tecido social?
É muito difícil para um país em desenvolvimento acertar nas políticas públicas. O primeiro movimento é natural, por meio de programas de distribuição de renda. Essa é uma solução genérica, coletiva. Mas, a partir daí, o Estado não consegue precisar o que aquela pessoa e, em um sentido um pouco mais amplo, a sua comunidade, precisam. É hospital? Escola? Transporte? Mais segurança? Com isso, em um primeiro momento, o governo dá tiros no escuro. Gasta muito dinheiro com programas até que eles comecem a ser efetivos. Sou cada dia mais otimista com o que vem pela frente para a economia brasileira. Só não sou otimista com relação ao esgarçamento do tecido social. Infelizmente. Arriscaria me contradizer que afirmar que esse vertical é também transversal aos demais. Há uma série de situações degradantes, da fome à violência, que não nos reduzindo ao que é de mais primitivo. É uma equação difícil de ser resolvida, seja pelo modelo do velho ou por um novo Consenso de Washington recauchutado. Ou ainda pela via do Dissenso, surja dele o que quer o que seja.
Luiz Guilherme Schymura, engenheiro e economista, é diretor do IBRE/FGV

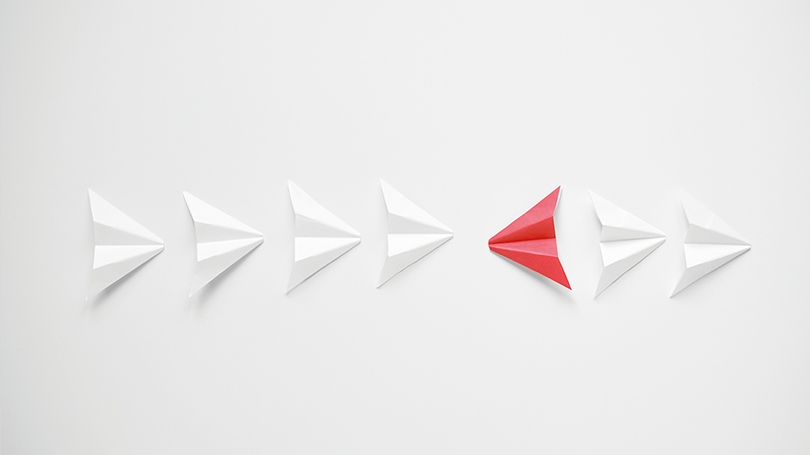





Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!