O professor Zheng Ge analisa como a legislação americana sobre contrainsurgência confunde a fronteira entre guerra e policiamento
Já se passaram dois dias desde que Maduro foi detido pelos EUA. E o que considero mais interessante pesquisar é como uma invasão desse tipo pode ser enquadrada como “aplicação da lei” em vez de uma guerra tradicional. Como realista, não me surpreende ver os EUA ignorarem o Conselho de Segurança da ONU para bombardear outros países, mas ainda é chocante para muitos observadores chineses testemunhar os EUA “prendendo à força” o presidente de outro país e acusando-o de tráfico de drogas. Em vez de me concentrar em como os militares dos EUA prenderam Maduro, acho mais interessante examinar como funciona essa guerra jurídica.
Por isso, gostaria de apresentar a análise do Professor Zheng Ge (郑戈) , professor da Faculdade de Direito KoGuan da Universidade Jiao Tong de Xangai. Ele obteve seu doutorado em Direito pela Universidade de Pequim em 1998 e, posteriormente, permaneceu como membro do corpo docente. Foi pesquisador visitante entre 2000 e 2004 na Universidade de Toronto, no Canadá, bem como na Universidade de Michigan, na Universidade Duke e na Universidade Columbia. De janeiro de 2004 a janeiro de 2014, lecionou na Faculdade de Direito da Universidade de Hong Kong.
Em seu artigo “When Wars of Aggression Become ‘Law Enforcement’: The Imperial Logic of American Counterinsurgency Law” ( Quando as Guerras de Agressão se Tornam ‘Aplicação da Lei’: A Lógica Imperial da Lei de Contrainsurgência Americana ), o Professor Zheng, usando o caso Maduro como exemplo, argumenta que os EUA têm, desde o 11 de setembro, cada vez mais obscurecido a linha divisória entre guerra e policiamento. Em vez de tratar certas ações no exterior como conflito armado — onde a Carta da ONU, a soberania e os limites estritos ao uso da força deveriam importar —, as autoridades americanas podem apresentá-las como “perseguição”, “contraterrorismo” ou “auxílio à segurança”. Essa mudança altera as regras aplicadas e reduz os custos políticos e jurídicos do uso da força no exterior.
Leia também: Países se unem contra ofensiva militar na Venezuela
Zheng descreve isso como uma forma de “lei de contrainsurgência”: um meio de utilizar a legislação interna dos EUA para estender seu alcance a outros países. Nessa lógica, um governo estrangeiro pode ser rebaixado retórica e juridicamente — de uma autoridade soberana a algo semelhante a uma organização criminosa ou uma ameaça “insurgente” à ordem liderada pelos EUA. Uma vez que isso acontece, a questão deixa de ser tratada principalmente como um problema de direito internacional; torna-se um caso criminal dos EUA, construído em torno de amplas alegações de jurisdição extraterritorial.
Nesse cenário, o mundo se divide entre “partes interessadas responsáveis” e “estados párias”. Os primeiros aderem às regras internacionais lideradas pelos Estados Unidos, enquanto os últimos representam uma “rebelião” contra essa ordem. Uma vez que um regime é rotulado como “estado pária”, ele deixa de ser considerado um membro legítimo do sistema de igualdade soberana e passa a ser visto como uma força rebelde que precisa ser “pacificada”.
Na prática, isso significa que, sempre que a legislação interna dos EUA definir um ato como criminoso e o considerar uma ameaça aos interesses americanos, o país poderá exercer jurisdição penal sobre qualquer indivíduo em qualquer lugar do mundo — incluindo chefes de Estado soberanos. Isso, na prática, contorna princípios fundamentais do direito internacional, como a imunidade de jurisdição e as leis que regem as relações diplomáticas.
Ele alerta que, se o país mais poderoso puder aplicar unilateralmente sua própria lei penal em todo o mundo — e tratar a “legitimidade” como algo que pode conceder ou retirar —, então princípios fundamentais do direito internacional, como a igualdade soberana e a não intervenção, começam a perder seu significado real. E se os EUA normalizarem essa abordagem, outras grandes potências serão tentadas a copiá-la à sua maneira, transformando a política global em uma espécie de “guerra jurídica” crescente, onde o direito se torna mais uma arma em vez de um conjunto compartilhado de restrições.
Segue abaixo o artigo completo. Gostaria de agradecer ao Professor Zheng pela gentil autorização e à Revista Cultural de Pequim.
Quando as guerras de agressão se tornam “operação policial”: a lógica imperial da lei americana de contrainsurgência.
Em 3 de janeiro de 2026, o presidente dos EUA, Trump, afirmou que os EUA haviam “capturado” com sucesso o presidente venezuelano Maduro e sua esposa, e os removido da Venezuela. Posteriormente, a procuradora-geral dos EUA, Bondi, anunciou nas redes sociais que o então presidente venezuelano Maduro e sua esposa haviam sido indiciados no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. A peculiaridade dessa notícia não reside no indiciamento em si — indiciamentos de figuras políticas estrangeiras pelo sistema judiciário dos EUA dificilmente são novidade — mas na omissão deliberada, por Bondi, do título presidencial de Maduro, caracterizando-o, em vez disso, como um suspeito criminal enfrentando acusações de “conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos para uso contra os Estados Unidos”. Essa escolha de terminologia aparentemente técnica revela, na verdade, um problema estrutural mais profundo no funcionamento do sistema jurídico dos EUA: no discurso jurídico americano, quando o chefe de Estado legítimo de um Estado soberano pode ser despojado de sua identidade política e, em vez disso, submetido à jurisdição dos tribunais internos dos EUA como um criminoso comum? A resposta a essa pergunta está precisamente escondida nas técnicas jurídicas desenvolvidas pelos EUA desde os ataques de 11 de setembro, que transformam intervenções militares estrangeiras em operações de aplicação da lei em território nacional.
Para compreender a essência jurídica do caso Maduro, é preciso primeiro entender como os EUA reconstruíram a fronteira entre “guerra” e “aplicação da lei” por meio de técnicas de interpretação jurídica. O direito internacional tradicional se baseia no princípio da igualdade soberana no sistema de Vestfália, onde os conflitos armados entre Estados são estritamente limitados pelo Artigo 2(4) da Carta da ONU, que permite o uso da força apenas com autorização do Conselho de Segurança ou em resposta a um ataque armado. No entanto, desde a aprovação da Autorização para o Uso da Força Militar contra Terroristas de 2001, o Poder Executivo dos EUA tem sistematicamente redefinido certas operações militares transfronteiriças como “busca por aplicação da lei” em vez de guerra no sentido tradicional, por meio de uma série de memorandos e pareceres jurídicos do Gabinete de Assessoria Jurídica do Departamento de Justiça. O cerne dessa transformação reside na expansão criativa do conceito de “insurgência”: no direito internacional tradicional, insurgência se refere a forças armadas dentro de um Estado que desafiam seu próprio governo, mas a retórica jurídica americana amplia esse conceito para “desafios à ordem internacional por atores transnacionais não estatais”, permitindo assim que os EUA se posicionem como uma força policial “convidada a auxiliar na contrainsurgência”, em vez de um beligerante que inicia uma guerra de agressão.
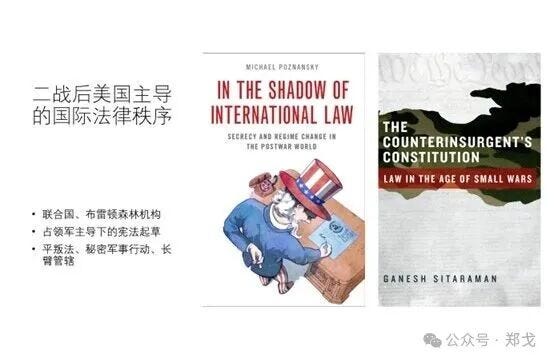
A figura mostra um slide do PowerPoint que tenho usado em meus cursos de Direito Constitucional e Direito e Desenvolvimento desde 2017. Meu aluno de doutorado americano, Liao Wei , foi quem me alertou pela primeira vez sobre a Lei de Contrainsurgência dos EUA. Esta não é uma área do direito, mas sim uma descrição teórica do “estado de direito relacionado a questões externas” dos EUA. A legislação interna dos EUA contém muitas leis que visam outros estados soberanos e seus territórios. De acordo com essas leis, os governos legítimos de outros estados soberanos são às vezes rotulados como “insurgentes”, enquanto em outras ocasiões rebeldes em outros países podem ser designados como “insurgentes”, revelando assim que a ordem perturbada pelos “insurgentes” não é a ordem interna de um estado soberano específico, mas sim a ordem global liderada pelos EUA.
A astúcia dessa lógica jurídica reside na criação de um “status jurídico híbrido”: ela invoca certas normas do direito dos conflitos armados para justificar o uso de força letal, ao mesmo tempo que aplica padrões mais flexíveis de aplicação da lei em questões de jurisdição, procedimentos de detenção e revisão de alvos. A edição revisada de 2012 do Guia de Contrainsurgência do Governo dos EUA foi a primeira a borrar a linha divisória entre “contrainsurgência” e “operações de estabilização no exterior”, redefinindo o apoio militar dos EUA a governos estrangeiros que reprimem “insurgências” como “assistência policial”. Dentro dessa estrutura, os EUA não precisam declarar guerra à Venezuela nem tratar o governo Maduro como um oponente beligerante; basta designar temporariamente indivíduos específicos como “membros de redes criminosas internacionais” por meio do processo de “avaliação de ameaças” no Relatório Diário do Presidente. Uma vez concluída essa caracterização jurídica, toda a operação escapa da estrutura do direito internacional e passa a estar sob a jurisdição do direito penal interno dos EUA. Maduro não é mais o chefe de um Estado soberano, mas um “criminoso foragido”, um suspeito de crime que pode ser perseguido globalmente, extraditado e julgado em tribunais dos EUA.
As origens históricas dessa transformação legal remontam à Lei de Supressão da Pirataria de 1819. Essa lei autorizou o presidente dos EUA a conceder poderes a oficiais da Marinha para “prender, apreender e entregar” piratas em alto-mar, e a interpretação jurídica moderna substituiu o conceito de “piratas” por “terroristas internacionais” ou “líderes de organizações criminosas transnacionais”, e “alto-mar” por “espaços sem governo”. No caso al-Awlaki, em 2011, o governo dos EUA invocou com sucesso essa lógica para realizar um ataque com drone contra um cidadão americano no Iêmen, sob a alegação de que a operação constituía “assistência policial” a convite do governo iemenita, aplicando, assim, a regra da “jurisdição de fuga”. Embora o Tribunal de Apelações do Circuito de DC tenha rejeitado o caso sob o fundamento de que os demandantes não possuíam legitimidade processual, endossou tacitamente a estrutura legal do governo em seu parecer — ou seja, que, contanto que uma operação seja apresentada como uma perseguição antiterrorista contra atores não estatais, ela não precisa acionar as obrigações de notificação previstas na Resolução sobre Poderes de Guerra. Essa decisão transformou, essencialmente, operações militares no exterior em “aplicação da lei” sob a legislação nacional, fornecendo um precedente legal para operações subsequentes de detenção transfronteiriça.
No caso Maduro, as quatro acusações citadas pelo Departamento de Justiça dos EUA — conspiração para “narcoterrorismo”, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos — constituem crimes domésticos, de acordo com os Títulos 18 e 21 do Código dos EUA. Isso significa que a base jurisdicional alegada pelos tribunais dos EUA não deriva de nenhum tratado internacional ou autorização da ONU, mas sim resulta puramente da expansão unilateral da “jurisdição extraterritorial” por meio da legislação interna dos EUA. De acordo com a “doutrina dos efeitos” e o “princípio da proteção” desenvolvidos na prática jurídica dos EUA, desde que a conduta criminosa produza efeitos substanciais no território ou nos cidadãos dos EUA, ou ameace os interesses de segurança dos EUA, os tribunais dos EUA podem exercer jurisdição independentemente da nacionalidade do autor ou do local do ato. Essa alegação jurisdicional recebeu apoio parcial da Suprema Corte no caso Estados Unidos vs. Verdugo, de 1990, que declarou explicitamente que a Quarta Emenda não se aplica a buscas de estrangeiros no exterior. Indo além, o Gabinete de Assessoria Jurídica do Departamento de Justiça articulou sistematicamente a lógica de transformação da legislação interna relativa à “legítima defesa ativa” em um memorando não publicado de 2010: transformando o direito à legítima defesa de uma resposta a um único incidente para a “eliminação sistemática de entidades que representam ameaças persistentes”, e comparando-o a operações policiais de repressão a longo prazo contra “organizações criminosas em atividade”.
O funcionamento dessa arquitetura jurídica se baseia em uma transformação conceitual fundamental: a redefinição do governo de um Estado soberano como uma “organização insurgente”. No discurso tradicional do direito internacional, o padrão para avaliar a legitimidade de um regime é o “princípio do controle efetivo” — desde que o regime consiga controlar efetivamente o território, manter a ordem básica e cumprir as obrigações internacionais, ele deve ser reconhecido como o governo legítimo daquele país. Contudo, a lógica jurídica americana de contrainsurgência introduz um padrão completamente novo: “se está em conformidade com as normas legítimas da ordem internacional”. A ambiguidade desse padrão reside no fato de que as chamadas “normas legítimas da ordem internacional” não possuem uma definição objetiva no direito internacional, dependendo inteiramente da concepção de ordem global das elites políticas americanas. Nessa concepção, o mundo se divide em “partes interessadas responsáveis” e “Estados párias”, sendo que os primeiros observam as regras internacionais formuladas sob a liderança dos EUA, e os últimos constituem uma “insurgência” contra essa ordem. Uma vez que um regime é rotulado como um “estado pária”, ele deixa de ser visto como um membro legítimo do sistema de igualdade soberana e passa a ser considerado uma força insurgente que precisa ser “pacificada”.
O perigo desse discurso jurídico reside na sua completa inversão da lógica básica do direito internacional. No sistema westfaliano, a soberania é um estatuto jurídico que não se altera em função da natureza ou das políticas de um regime. Um país pode ser moralmente condenado, isolado diplomaticamente e sujeito a sanções econômicas, mas seu estatuto soberano em si é inalienável. Contudo, a lógica jurídica de contrainsurgência dos Estados Unidos transforma a soberania em um privilégio que pode ser concedido ou revogado, com critérios determinados unilateralmente pelos Estados Unidos. A Venezuela é, sem dúvida, um Estado soberano no sentido do direito internacional; Maduro foi eleito por meio de procedimentos constitucionais e reeleito diversas vezes como presidente, o regime é reconhecido como membro da ONU e mantém relações diplomáticas com a grande maioria dos países do mundo. Mas, na narrativa jurídica americana, todos esses fatos tornam-se irrelevantes. O governo Maduro é caracterizado como um “sindicato do crime”, e seu domínio sobre a Venezuela é descrito como “ocupação ilegal”. Portanto, a prisão de Maduro não constitui uma violação da soberania de um chefe de Estado, mas sim uma perseguição legítima a um “líder de organização criminosa transnacional”.
As consequências jurídicas dessa caracterização são extremamente abrangentes. Uma vez que Maduro seja preso e transferido para a jurisdição dos EUA, ele não gozará de imunidade de chefe de Estado nem de tratamento como prisioneiro de guerra, mas será julgado como um réu comum. Os tribunais dos EUA invocarão o princípio de que “a imunidade de chefe de Estado não se aplica a crimes internacionais”, mas o problema é que as acusações contra Maduro não são crimes de guerra, crimes contra a humanidade ou genocídio no sentido do direito internacional, mas sim infrações penais puramente internas dos EUA. Isso significa que os tribunais dos EUA estão, na verdade, afirmando: contanto que a legislação interna dos EUA defina determinada conduta como criminosa e determine que tal conduta ameaça os interesses dos EUA, os EUA podem exercer jurisdição penal sobre qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo — incluindo chefes de Estado soberanos. O absurdo dessa afirmação reside em tornar completamente sem sentido uma série de princípios fundamentais do direito internacional relativos à imunidade soberana, à não interferência em assuntos internos, às relações diplomáticas e assim por diante. Se cada país pudesse unilateralmente definir crimes e conduzir atividades globais como os Estados Unidos fazem, a sociedade internacional regrediria completamente a um estado selvagem.
O problema mais profundo reside no isomorfismo estrutural entre essa lógica jurídica e a “estratégia de contrainsurgência” que os EUA promovem globalmente. O cerne da teoria da contrainsurgência não é destruir o inimigo, mas “conquistar corações e mentes”, ou seja, isolar e desmantelar a base social da insurgência, estabelecendo legitimidade. No discurso estratégico americano, a própria ordem global é entendida como uma guerra de contrainsurgência em curso, onde os EUA e seus aliados representam o “governo legítimo”, enquanto os países que se recusam a aceitar a ordem liderada pelos EUA são considerados “insurgentes”. Intervenção militar, sanções econômicas, mudança de regime e processos judiciais contra esses países são todos incorporados à categoria de “operações de contrainsurgência de amplo espectro”, cujo objetivo não é simplesmente eliminar inimigos, mas conquistar o apoio da comunidade internacional, criando a aparência de procedimentos legais e, assim, isolando os regimes-alvo. A acusação no caso Maduro é uma manifestação típica dessa estratégia: os EUA não precisam enviar tropas diretamente para derrubar o regime de Maduro, basta caracterizá-lo como criminoso por meio de procedimentos judiciais, negando legalmente a legitimidade de seu governo e fornecendo uma aparência de “estado de direito” para operações subsequentes de mudança de regime.
Essa operação de transformar conflitos políticos internacionais em casos criminais internos tem uma longa tradição na prática jurídica dos EUA. Da invasão militar americana do Panamá em 1989 para prender Noriega, ao julgamento de Saddam Hussein após a invasão do Iraque em 2003, aos mandados de prisão contra Gaddafi, da Líbia, Assad, da Síria, e outros, os EUA demonstraram repetidamente sua capacidade de disfarçar “mudança de regime” como “operações de aplicação da lei”. A chave para esse disfarce reside em degradar as figuras-alvo, de líderes políticos a criminosos, conferindo assim à intervenção militar uma certa “legitimidade jurídica”. No caso Noriega, uma das razões para a invasão americana do Panamá foi “prender um narcotraficante indiciado por tribunais americanos”, embora Noriega fosse então o governante de fato do Panamá. Quando os tribunais americanos analisaram o caso, recusaram-se explicitamente a reconhecer a imunidade de chefe de Estado de Noriega, sob o argumento de que seu regime “não era reconhecido pelos Estados Unidos como um governo legítimo”. Essa decisão criou um precedente perigoso: um país pode burlar as disposições do direito internacional sobre imunidade soberana, recusando-se unilateralmente a reconhecer a legitimidade do governo de outro país.
A singularidade do caso Maduro reside no fato de que o governo venezuelano não foi derrotado militarmente nem sofreu colapso de regime, como Noriega ou Saddam Hussein em seus respectivos períodos. Maduro ainda controla firmemente o aparato estatal da Venezuela, e os sistemas militar, policial e judiciário do país permanecem leais a ele. A prisão de Maduro nessas circunstâncias, seja por meio de operações secretas ou procedimentos de extradição, constituiria necessariamente uma grave violação da soberania venezuelana. Mas, na narrativa jurídica americana, essa violação é reformulada como “cooperação transfronteiriça entre forças de segurança”. O Departamento de Justiça dos EUA provavelmente alegará que a prisão de Maduro foi realizada com a cooperação dos “verdadeiros representantes do povo venezuelano” — ou seja, o governo de oposição reconhecido pelos EUA — e, portanto, não constitui uma violação da soberania venezuelana. O absurdo desse argumento reside na transformação da soberania de um fato jurídico objetivo em um juízo político subjetivo: apenas governos reconhecidos pelos Estados Unidos possuem soberania, enquanto governos não reconhecidos pelos EUA, mesmo que de fato controlem o aparato estatal, não são considerados soberanos.
O respaldo para essa lógica no âmbito técnico-jurídico advém da aplicação seletiva, pelos Estados Unidos, das teorias de “sucessão de Estados” e “reconhecimento de governos”. No direito internacional, a questão de se um novo regime deve ser reconhecido como um governo legítimo tradicionalmente se baseia em dois critérios: o “princípio do controle efetivo” e o “princípio da legitimidade”. O primeiro enfatiza a capacidade de controle real, enquanto o segundo enfatiza a origem legítima do poder. Os EUA escolhem, de forma flexível, entre esses dois critérios em diferentes situações: quando um regime apoiado pelos EUA exerce pouco controle efetivo, os EUA invocam o “princípio da legitimidade” para manter o reconhecimento; quando um regime ao qual os EUA se opõem controla efetivamente o território, mas não se conforma aos valores americanos, os EUA invocam o “princípio da legitimidade” para negar o reconhecimento. No caso da Venezuela, os EUA reconhecem o líder da oposição, Guaidó, como “presidente interino” desde 2019, embora Guaidó jamais tenha controlado, de fato, qualquer território ou instituição governamental venezuelana. Esse reconhecimento se baseia puramente na interpretação unilateral americana de “legitimidade democrática”, ignorando completamente as normas básicas do direito internacional sobre reconhecimento de governos.
Mais notável é a apropriação, pelos Estados Unidos, da teoria da “justiça de transição” nesse processo. Originalmente, a justiça de transição referia-se ao enfrentamento de questões históricas legadas por meio de julgamentos, comissões da verdade, reparações e outros mecanismos após a mudança de regime ou a resolução de conflitos, partindo do pressuposto de que o antigo regime havia caído ou o conflito havia terminado. Mas a lógica do direito de contrainsurgência dos Estados Unidos leva a justiça de transição para o meio do conflito em curso: embora o regime de Maduro ainda não tenha caído, ele começa a acertar as contas por meio de procedimentos judiciais, com o objetivo de acelerar a mudança de regime por meios legais. O cerne dessa “transição turbulenta” reside no fato de a justiça de transição deixar de ser uma reação passiva após o fim do conflito e passar a fazer parte do próprio conflito, uma ferramenta ativa usada para minar a legitimidade de regimes hostis, dividir seus apoiadores e criar bases legais para intervenção militar ou mudança de regime. Nesse sentido, a acusação contra Maduro não visa alcançar a justiça, mas sim a mudança de regime; não a lei restringindo a política, mas a lei a serviço da política.
Essa instrumentalização do direito encontra respaldo teórico explícito nos manuais de contrainsurgência dos Estados Unidos. A edição de 2012 do Guia de Contrainsurgência enfatiza que o direito, em contextos de contrainsurgência, não é uma restrição externa, mas sim “o nexo que liga a população à ordem política” e “o mecanismo pelo qual os governos conquistam legitimidade e as populações assumem obrigações”. O manual destaca explicitamente que a vitória na contrainsurgência não depende de quantos inimigos são eliminados, mas sim da conquista do apoio popular por meio do direito, da governança e dos serviços públicos. Em nível global, isso significa que os EUA precisam moldar a legitimidade de suas ações por meio de procedimentos jurídicos internacionais — mesmo procedimentos iniciados unilateralmente —, derrotando, assim, os oponentes na “competição pela legitimidade”. O significado simbólico da acusação formal contra Maduro supera em muito seu significado prático: mesmo que Maduro nunca seja extraditado para os EUA para ser julgado, essa acusação em si já o caracterizou como criminoso no âmbito do discurso jurídico, minando assim a legitimidade do governo venezuelano na sociedade internacional e fornecendo aos países que apoiam a política dos EUA uma “base legal” para se recusarem a negociar com o governo Maduro.
Outro elemento-chave dessa estratégia jurídica é a dupla manipulação do conceito de “legitimidade”. No discurso teórico americano, a legitimidade é distinguida como “legitimidade jurídica” e “legitimidade sociológica”: a primeira deriva da adequação processual, a segunda da identificação popular. Em operações de contrainsurgência doméstica, ambos os tipos de legitimidade precisam ser mantidos simultaneamente, pois confiar apenas na adequação processual, perdendo-se o apoio popular, leva ao fracasso estratégico. Mas, no âmbito internacional, os EUA exploram habilmente a tensão entre esses dois tipos de legitimidade. Quando as ações americanas estão em conformidade com os procedimentos do direito internacional, enfatizam a legitimidade jurídica; quando as ações americanas violam o direito internacional, mas podem obter apoio de alguns países ou populações, enfatizam a legitimidade sociológica. No caso Maduro, a acusação claramente carece de legitimidade jurídica no sentido do direito internacional — nenhuma autorização da ONU, nenhuma base de direito internacional para jurisdição universal, uma expansão puramente unilateral da legislação interna dos EUA — mas os EUA tentam obter legitimidade sociológica retratando o governo Maduro como “ditatorial, corrupto e envolvido com narcotráfico”, defendendo assim suas ações na opinião pública internacional.
O perigo dessa manipulação da legitimidade reside na criação de uma “normalização do estado de exceção”. Na teologia política de Schmitt, o soberano é definido como “aquele que decide sobre a exceção”. Através de sua lógica de direito de contrainsurgência, os EUA se posicionam como soberanos da ordem global: podem decidir quais países estão em status “normal” e, portanto, sujeitos às normas convencionais do direito internacional, e quais países estão em status “excepcional” e, portanto, podem ser tratados como organizações insurgentes. Esse poder decisório não requer nenhum procedimento internacional, nenhuma autorização do Conselho de Segurança da ONU, nenhuma decisão da Corte Internacional de Justiça, mas depende puramente de uma avaliação unilateral do Poder Executivo dos EUA. Uma vez que um país é caracterizado pelos EUA como um “estado pária” ou “regime criminoso”, todas as ações contra esse país — sejam ataques militares, bloqueios econômicos ou processos judiciais — são automaticamente isentas das restrições do direito internacional, porque essas ações são redefinidas como “aplicação da lei” em vez de “guerra”, “contrainsurgência” em vez de “agressão”.
A manifestação mais extrema dessa lógica jurídica é o uso criativo, pelos Estados Unidos, do conceito de “combatente inimigo”. Nas leis de guerra tradicionais, os combatentes capturados são prisioneiros de guerra e, portanto, protegidos pelas Convenções de Genebra, ou criminosos e, portanto, protegidos pelo direito processual penal. Mas os EUA criaram os “combatentes inimigos” como uma terceira categoria na guerra contra o terror, que não gozam nem do tratamento de prisioneiro de guerra nem dos direitos de réu em processos criminais, e podem ser detidos indefinidamente sem julgamento. A base jurídica desse conceito reside precisamente na caracterização da guerra contra o terror como um Estado híbrido: simultaneamente guerra, permitindo, assim, o uso de força letal e a detenção prolongada, e aplicação da lei, não estando, portanto, sujeito às restrições das leis de guerra quanto ao tratamento de prisioneiros de guerra. O caso Maduro segue a mesma lógica: Maduro não é um chefe de Estado beligerante e, portanto, não goza de imunidade de guerra, nem um cidadão estrangeiro comum e, portanto, não protegido pela imunidade soberana, mas sim um “líder de organização criminosa” que pode ser perseguido globalmente como Bin Laden ou al-Baghdadi.
De uma perspectiva macro-histórica, o sistema jurídico americano representa um novo tipo de modelo de governança imperial. Os impérios tradicionais mantinham sua hegemonia por meio da ocupação territorial direta e do domínio colonial, enquanto o império americano alcança a governança global por meio da hegemonia no discurso jurídico . Ele não precisa instalar governantes em todos os países, mas apenas controlar a autoridade interpretativa sobre o discurso jurídico internacional para decidir a soberania de quais países deve ser respeitada e a de quais pode ser ignorada; a legitimidade de quais governos deve ser reconhecida e a de quais deve ser caracterizada como organizações criminosas. A sutileza desse modelo imperial reside na manutenção da aparência de igualdade soberana enquanto, substancialmente, estabelece uma ordem global hierárquica: os países que aceitam as regras dos EUA desfrutam de soberania completa, enquanto os países que desafiam as regras dos EUA são rebaixados à condição de “insurgentes”, cujos líderes podem ser procurados globalmente como criminosos.
A manutenção dessa ordem se baseia em uma ficção jurídica fundamental: a existência de uma “comunidade internacional” que transcende a soberania nacional, com os EUA como porta-vozes da vontade dessa “comunidade internacional”. Na retórica jurídica americana, a acusação de Maduro não é uma ação unilateral dos EUA, mas sim a repressão coletiva da “comunidade internacional” ao “crime transnacional”. Essa estratégia retórica tenta apresentar os interesses particulares dos EUA como interesses universais e suas ações unilaterais como cooperação multilateral. Mas o problema é que a chamada “comunidade internacional” não possui uma vontade unificada, sendo meramente um sistema anárquico composto por Estados com poderes extremamente díspares. A razão pela qual os EUA podem falar em nome da “comunidade internacional” não é porque receberam autorização de outros países, mas simplesmente porque possuem um poder militar e econômico esmagador. Essa hegemonia jurídica baseada na força se opõe fundamentalmente ao princípio da igualdade soberana do sistema de Vestfália.
A contradição mais profunda reside no fato de os EUA promoverem o “estado de direito” e a “democracia” globalmente, por um lado, enquanto praticam a mais descarada lei do mais forte no âmbito internacional, por outro. Os EUA exigem que outros países respeitem a independência judicial, observem a justiça processual e aceitem as restrições do direito internacional, mas podem decidir unilateralmente quais normas de direito internacional se aplicam a si mesmos, podem recusar-se a aderir ao Tribunal Penal Internacional e podem autorizar o Presidente, por meio da Lei de Proteção aos Militares Americanos, a usar “todos os meios necessários” para resgatar qualquer americano detido por um tribunal internacional. Esse duplo padrão é particularmente evidente no caso Maduro: os EUA exigem que a Venezuela se submeta à jurisdição dos tribunais americanos, mas jamais aceitariam a jurisdição de qualquer tribunal internacional sobre o Presidente ou altos funcionários americanos. Essa assimetria revela a essência do imperialismo jurídico americano: o direito não é usado para restringir os fortes, mas sim como uma ferramenta que os fortes usam para restringir os fracos.
Da perspectiva da Venezuela, o caso Maduro representa o colapso total do princípio da soberania. Se o chefe de Estado de um país pode ser procurado globalmente devido a uma acusação por um tribunal interno dos EUA, que significado tem a soberania? Se os EUA podem decidir unilateralmente qual governo é legítimo e qual deve ser derrubado, que força vinculativa tem a disposição da Carta da ONU sobre a não interferência em assuntos internos? Se a jurisdição judicial dos EUA pode se expandir ilimitadamente para qualquer lugar do mundo, como outros países podem manter sua própria ordem jurídica? Essas questões dizem respeito não apenas à Venezuela, mas a todos os países que se recusam a se submeter completamente à vontade americana. Hoje, os EUA podem indiciar Maduro por “tráfico de drogas”, amanhã podem indiciar líderes de outros países por “violações de direitos humanos” e, depois de amanhã, podem lançar “operações de aplicação da lei” contra qualquer regime de que não gostem, sob a alegação de “ameaça à segurança dos EUA”.
O perigo dessa guerra jurídica reside não apenas na violação da soberania de cada país, mas, fundamentalmente, na sua fragilização dos alicerces da ordem jurídica internacional. A sobrevivência do direito internacional depende do reconhecimento mútuo e da observância das regras básicas pelos países, sendo as mais essenciais a igualdade soberana, a não interferência em assuntos internos e a proibição da ameaça ou do uso da força. Quando o país mais poderoso do mundo desrespeita abertamente essas regras e justifica suas violações por meio de artifícios jurídicos, que razão teriam outros países para continuar a observá-las? As ações dos Estados Unidos, na verdade, encorajam todos os países capazes a seguirem o exemplo: pode a China emitir um mandado de prisão internacional contra a líder de Taiwan invocando a “Lei Antissecessão”? Pode a Rússia iniciar um processo judicial contra o presidente da Ucrânia invocando o princípio da “proteção dos próprios cidadãos”? Se cada grande potência estender sua jurisdição jurídica interna globalmente, como fazem os Estados Unidos, a sociedade internacional mergulhará em uma guerra jurídica abrangente, cujo resultado final será apenas o retorno da lei da selva.
O caso Maduro, portanto, não é apenas um evento jurídico específico, mas também um ponto de virada simbólico: marca o abandono completo dos esforços dos EUA para manter a ordem internacional por meio de mecanismos multilaterais, optando, em vez disso, por confiar na hegemonia jurídica unilateral para promover sua estratégia global. A raiz dessa mudança reside no declínio relativo do poder americano e na tendência de multipolarização do sistema internacional. Quando os EUA se veem cada vez mais incapazes de obter autorização para agir por meio do Conselho de Segurança da ONU ou de outros mecanismos multilaterais, optam por contornar esses mecanismos e alcançar seus objetivos estratégicos diretamente por meio de seu próprio sistema jurídico. Essa estratégia pode ser eficaz no curto prazo, mas, a longo prazo, acelerará a desintegração da ordem jurídica internacional e a fragmentação da governança global. Quando mais e mais países percebem que o direito internacional não pode protegê-los das violações das grandes potências, só lhes resta buscar a autopreservação por meio do desenvolvimento de poderio militar, do estabelecimento de alianças exclusivas ou da realização de ataques preventivos para manter sua própria segurança — precisamente a escolha dos países europeus antes da Primeira Guerra Mundial e a causa direta de conflitos catastróficos.




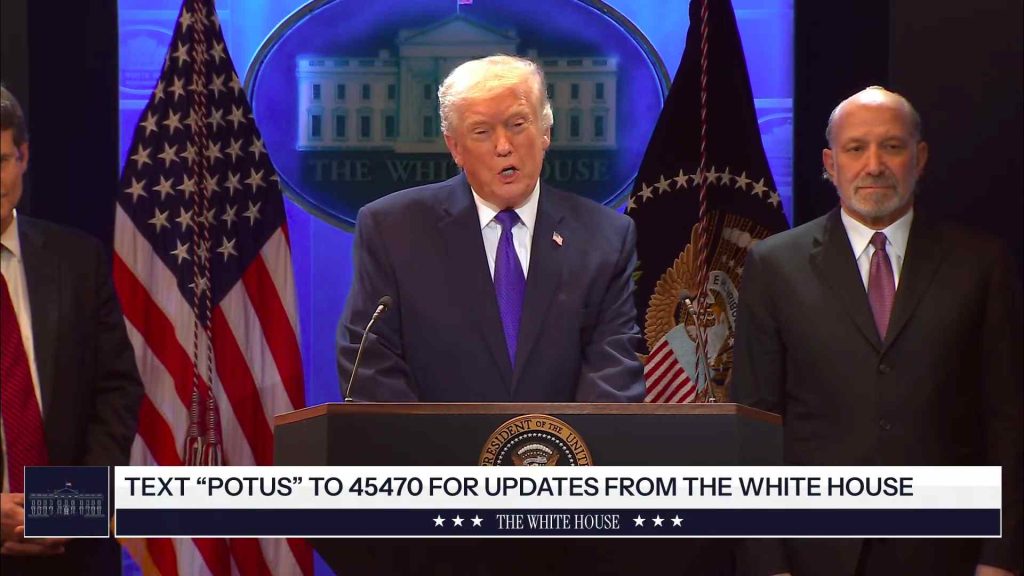




Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!